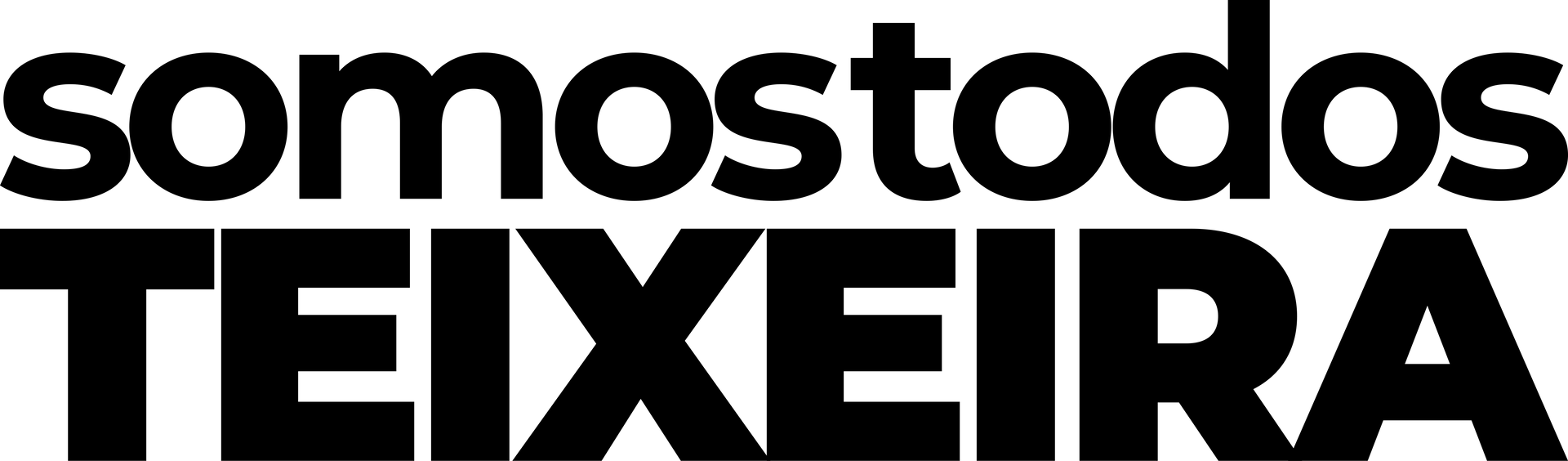Quando o transporte falha, a vida das pessoas também

Foto: Felipe Cruz/TV Globo
Na tarde de segunda-feira, um trem da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), da linha 11-Coral, apresentou falha em pleno horário de pico — por volta das 17h10 — obrigando passageiros a caminhar sobre os trilhos na estação Estação Brás.
Mas este não foi um “simples transtorno técnico”.
Ele expôs, incisivamente, como o transporte público falha em garantir dignidade à vida de quem depende dele.
E quem depende mais?
Mulheres que têm duplas jornadas, mães que correm para buscar os filhos na creche, pessoas que pegam o trem exaustas depois de um dia inteiro de trabalho. Essa falha se torna um impacto real, não apenas uma manchete.
Considere a mulher que trabalha meio expediente, pega o trem lotado, chega atrasada por causa da superlotação ou falha na linha, e ainda precisa enfrentar o trânsito ou buscar os filhos antes que feche a creche.
A estação parada, o trem com horário estendido, a necessidade de caminhar sobre os trilhos, tudo isso vira um atraso na vida dela, um aumento no tempo de trabalho não remunerado e um desgaste emocional que não se contabiliza.
Essa rotina invisibilizada é parte da realidade de tantas mulheres no grande entorno da zona leste.
E não são só os atrasos, há também o medo, a insegurança. Quando a linha falha, quando a estação lota ou fica parada, quem está lá é apresentado ao risco. Mulheres, muitas vezes, permanecem sós na plataforma ou se deslocam em vias alternativas sem iluminação ou proteção.
Caminhar entre trilhos ou fazer baldeações longas é colocar corpo e confiança em situações que deveriam se chamar “acesso garantido”, não “sorte de acerto”.
Essa falha operacional revela algo mais profundo: a infraestrutura que atende “menos prioridade” acaba atingindo pessoas que já são atingidas por desigualdades — trabalhadores, mulheres, mães solo, famílias periféricas. Aumenta o tempo de deslocamento, diminui a segurança, soma ao cansaço.
Quando o transporte público falha, ele não falha sozinho.
Ele empurra sobre as pessoas uma carga invisível de estresse, atraso, insegurança e, para muitos, isso se transforma em doença, ansiedade, sensação de falta de controle.
A saúde mental de quem trabalha para cumprir horários apertados, com transporte falho e jornada dupla, está em risco. E essa é uma questão de política pública.
Precisamos exigir: trens confiáveis, intervalos reduzidos, estações seguras, baldeações mais fáceis.
Não como “luxo”, mas como direito.
E precisamos ouvir especialmente as mulheres que vivem essa rotina. Porque o transporte que funciona bem não é só o que leva do ponto A ao B. É o que devolve tempo, segurança e dignidade.
Sou Aline Teixeira, e acredito que uma cidade com transporte eficiente é uma cidade que respeita quem vive e quem vive muitas vezes espera pelo trem, o lar e o futuro todo dia.
Se você também acredita, me acompanhe nas redes sociais @alineteixeira.oficial.