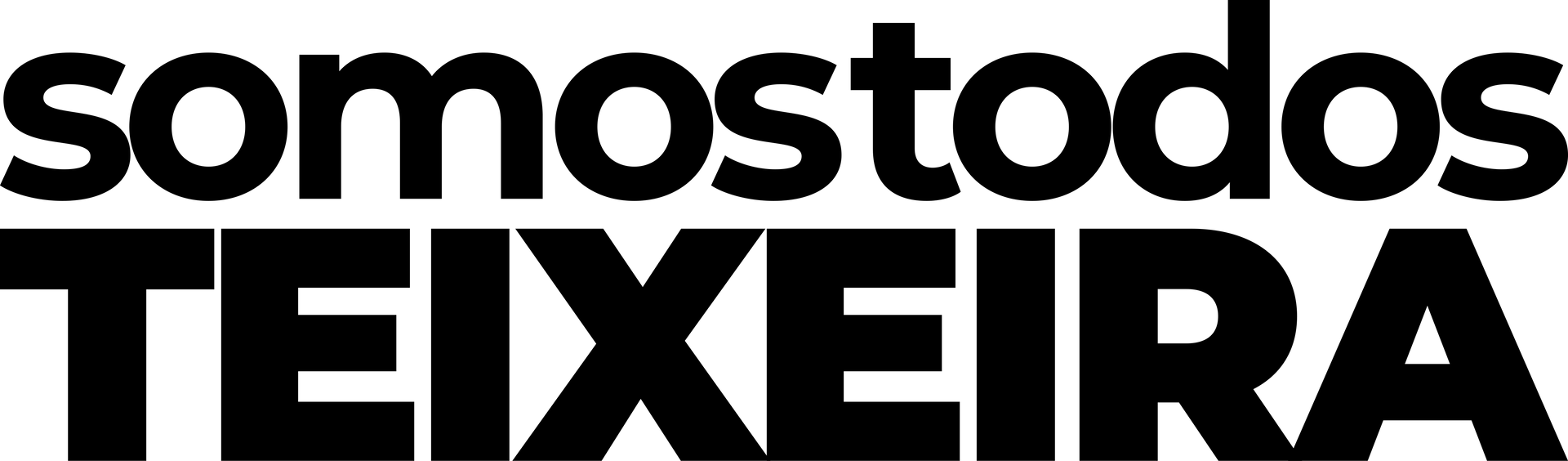Mulheres, medo e o direito de ir e vir

Toda mulher conhece o medo.
Ele aparece disfarçado nas pequenas decisões do dia: o caminho mais iluminado, a roupa escolhida, o fone que sai do ouvido ao atravessar uma rua.
É um medo que não precisa ser nomeado, porque é aprendido desde cedo. E, ao contrário do que muitos pensam, não é um medo “exagerado”, é sobrevivência.
Nas grandes cidades, esse medo ganha novos rostos: o da insegurança nos transportes, o do assédio nas ruas, o da violência dentro de casa.
Mulheres precisam calcular cada passo, cada horário, cada trajeto, como se o simples ato de existir em público fosse um risco. E, infelizmente, muitas vezes é.
Quando falamos em direito à cidade, precisamos incluir a perspectiva feminina.
O transporte, a iluminação pública, os espaços de lazer e as políticas de segurança não foram pensados levando em conta as necessidades das mulheres.
Ainda vivemos em cidades planejadas por e para homens, e isso se reflete em cada calçada mal iluminada, em cada ponto de ônibus isolado, em cada ausência de acolhimento às vítimas de violência.
Quantas vezes uma mãe deixa de aceitar um trabalho porque o trajeto é perigoso à noite?
Quantas jovens deixam de estudar porque o caminho até a escola é escuro?
Quantas mulheres mudam a rotina por medo?
Essas histórias estão em toda parte, mas quase nunca nas prioridades.
Garantir o direito de ir e vir com segurança não é um favor, é uma obrigação do Estado.
Isso significa investir em transporte seguro, em patrulhas de proteção, em urbanismo inclusivo, em campanhas educativas e em políticas de enfrentamento à violência de gênero.
Mas também significa mudar a cultura e deixar de naturalizar o medo.
Nenhuma mulher deveria precisar mandar mensagem dizendo “cheguei bem”.
Nenhuma menina deveria aprender que “andar sozinha é perigoso”.
Uma cidade verdadeiramente desenvolvida é aquela em que todas podem circular sem medo de não voltar para casa.
Sou Aline Teixeira, e acredito que a liberdade das mulheres começa no direito de andar sem medo.
Se você também acredita, me acompanhe nas redes sociais @alineteixeira.oficial.