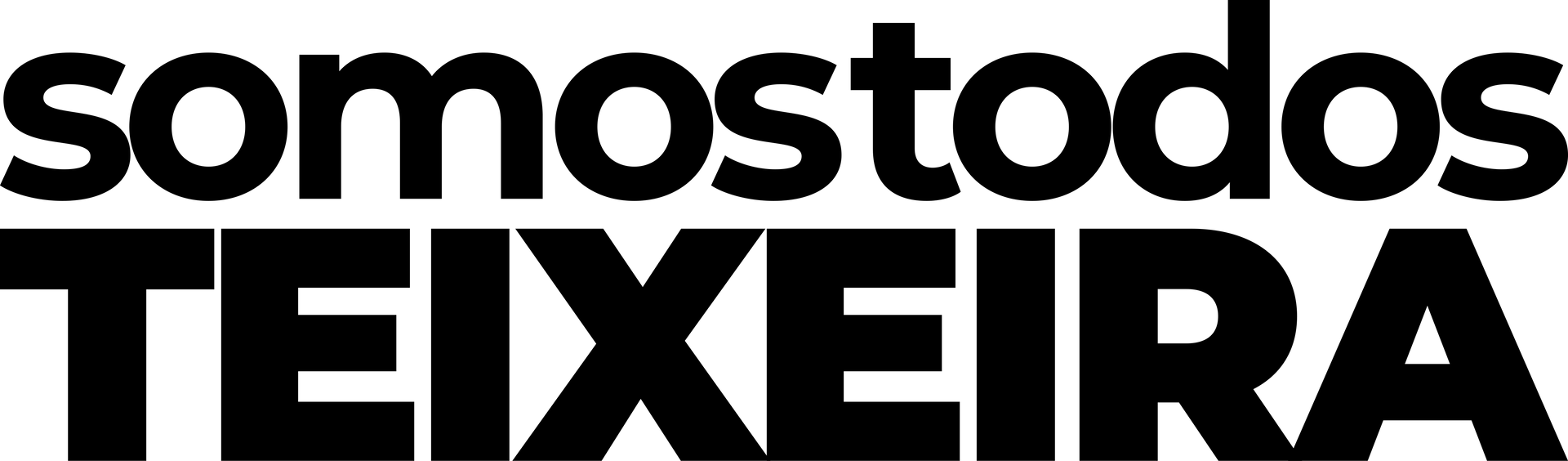O transporte público como fator de desigualdade

O colapso no transporte público de São Paulo — como o que vimos na Linha 11-Coral — não é apenas um problema técnico. É um problema social, econômico e de gênero.
Sempre que um trem para, quando uma linha sofre panes, atrasos ou superlotação, o impacto recai de forma muito maior sobre as mulheres.
Isso acontece porque elas dependem mais do transporte público, têm jornadas mais fragmentadas e lidam com responsabilidades que o sistema insiste em tratar como “assuntos privados”: levar e buscar filhos na escola, cuidar de idosos, trabalhar longe de casa e realizar tarefas que exigem múltiplos deslocamentos diários.
Quando o trem quebra, não é apenas o horário de trabalho que se perde.
É a vaga da creche que chega perto de ser cancelada.
É a advertência no emprego, mesmo quando a culpa não é da trabalhadora.
É a criança esperando mais tempo do que deveria.
É a mulher voltando mais tarde, agora exposta a riscos maiores.
Falhas de mobilidade urbana não afetam todo mundo da mesma maneira.
Elas ampliam desigualdades — especialmente para quem já enfrenta dificuldades estruturais.
Em vagões lotados, as mulheres são alvo fácil de assédio.
Em estações sem segurança, correm risco de violência.
Em trajetos noturnos, sentem medo legítimo.
Falar de mobilidade, portanto, é falar de segurança pública, saúde mental, acesso ao trabalho e autonomia feminina.
Um transporte eficiente reduz estresse, aumenta produtividade, diminui evasão escolar e protege vidas.
Mas tudo isso só funciona quando o poder público enxerga a mobilidade como política essencial e não como gasto.
Enquanto essas medidas não são tomadas, continuamos repetindo o mesmo ciclo: trabalhador atrasado, mãe sobrecarregada, usuárias expostas a risco e uma sensação generalizada de abandono.