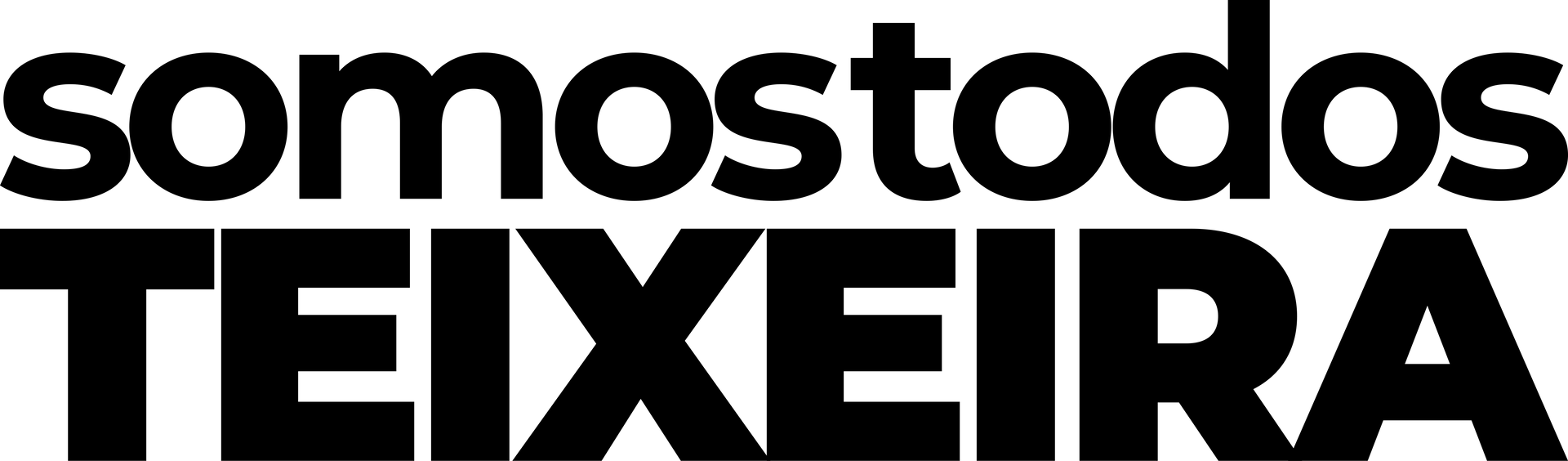Saúde mental de mulheres que viveram relacionamentos abusivos

Silenciosa, devastadora e, muitas vezes, invisível: assim podemos definir a marca que os relacionamentos abusivos deixam na saúde mental das mulheres. Não se trata apenas de uma história mal resolvida ou de um término doloroso. O abuso emocional, psicológico ou físico corrói a autoestima, desestabiliza a confiança e mina a capacidade de reconhecer o próprio valor.
Dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostram que, a cada dois minutos, uma mulher é vítima de violência doméstica no Brasil. Por trás desses números, existem trajetórias de mulheres que carregam feridas internas difíceis de nomear: ansiedade, depressão, crises de pânico, transtorno de estresse pós-traumático. Muitas descrevem a sensação de terem perdido a própria identidade, como se a vida tivesse ficado suspensa dentro da lógica de controle e manipulação.
Romper com esse ciclo não é simples. A manipulação psicológica típica dos relacionamentos abusivos cria uma espécie de prisão invisível, que dificulta reconhecer a violência e, principalmente, pedir ajuda. Quando finalmente rompem, essas mulheres iniciam uma jornada de reconstrução — um processo lento, que exige acolhimento, rede de apoio e, em muitos casos, acompanhamento profissional.
Falar sobre saúde mental é também falar sobre políticas públicas. É garantir acesso a centros de referência, serviços de psicologia e psiquiatria pelo SUS e investir em campanhas que alertem para os sinais do abuso. É compreender que o cuidado não pode ser privilégio, mas direito.
Mais do que nunca, precisamos olhar para essas mulheres não como vítimas eternas, mas como protagonistas de suas histórias. O autocuidado, a retomada de vínculos sociais e o acesso a espaços de escuta são caminhos que fortalecem a autonomia e abrem novas possibilidades de vida.
Às mulheres que estão atravessando esse processo, fica o lembrete: não há vergonha em pedir ajuda, em admitir a dor ou em recomeçar. O abuso não define quem você é. Sua história é maior do que a violência que você viveu.
Aline Teixeira